Nascida no Líbano, sem ser libanesa, filha de sírios sem poder ser síria. Estranho? Para entender essa contradição, é preciso conhecer a história de Maha Mamo, filha de mãe muçulmana e pai cristão. Tivesse nascido no Brasil, ela não teria esse obstáculo em sua vida. Na Síria, a união de casais de religiões diferentes é proibida. Apaixonados, seus pais Jean Mamo e Kifah Nachar fugiram para o Líbano, onde casaram. E por lá, só tem direito à nacionalidade se o pai da criança for libanês.

Foi no Líbano onde nasceram Maha e seus irmãos Souad e Edward. Eles cresceram sem quaisquer documentos, situação que parece apenas um inconveniente burocrático, mas que, na prática, significava não existir como cidadãos, sem direitos à saúde ou educação, além de estarem expostos a todo tipo de punições de forma arbitrária, passíveis de serem explorados em empregos de baixa remuneração, entre outras violações.
Até 4 de outubro de 2018, quando se tornou cidadã brasileira durante uma cerimônia na 69ª sessão do Comitê Executivo do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), em Genebra, na Suíça, Maha era uma das dez milhões de apátridas espalhadas pelo mundo. Atualmente ela é uma ativista e uma embaixadora que integra a campanha I Belong (Eu Pertenço) do ACNUR, órgão vinculado à ONU. Esta campanha tem como meta acabar com a apatridia no mundo até 2024.

Eu a conheci casualmente em um evento em São Paulo em dezembro de 2018. Maha fez a palestra que antecedeu a minha apresentação e em curtos 30 minutos sua história marcou-me profundamente. Não pude deixar o encontro sem convidá-la para essa entrevista que transmite uma mensagem de luta e perseverança, mas também leva à compreensão de que a apatridia é um problema global e que assola milhões de pessoas.
Antes de apreciar a entrevista, tenho um singelo pedido a fazer: se a história de Maha lhe tocar, como a mim, passe-a adiante. Façamos com que a causa seja conhecida em todo o mundo e dessa maneira consigamos o engajamento necessário para lidar de forma definitiva com o problema.
Antes de contar sua história Maha, descreva-se em três palavras.
Sou sonhadora, positiva e lutadora.
Conte-nos a sua trajetória e os desafios que teve na vida.
Tenho 30 anos e hoje sou uma cidadã brasileira. Com orgulho mostro minha carteira de identidade e meu passaporte. Para muitos pode parecer um gesto trivial, mas é um marco pessoal: eu não tive um documento meu até os 26 anos, quando cheguei ao Brasil, em 2014, por meio da abertura do governo em receber refugiados da Síria.

Hoje sou cidadã desse país, mas até pouco tempo atrás eu era uma apátrida. Um apátrida é alguém que não tem qualquer tipo de vínculo a uma nacionalidade e nenhuma prova de reconhecimento oficial pelo Estado. Quando um ser humano nasce ele obtém a nacionalidade de duas formas: na terra onde nasce ou pelo sangue de seus pais, como a maioria dos países da Europa.
No meu caso, nasci no Líbano, mas por lá só se consegue a nacionalidade se o seu pai é libanês. E meus pais nasceram na Síria, onde não é possível ocorrer a união entre pessoas de religiões diferentes. Minha mãe é muçulmana e meu pai é cristão. Líbano e Síria estão entre os 25 países no mundo em que as mulheres não conseguem registrar a sua nacionalidade nos filhos.

Ser um apátrida significa ser privado de seus direitos, é como fosse um cidadão fantasma. Eu e meus irmãos crescemos sem documentos, o que na prática significava não ter direito à educação ou a saúde. Em diversas ocasiões tive crises sérias de urticária e só conseguia ir ao hospital porque uma amiga apresentava a sua identidade para que eu fosse atendida. Quando eu tinha 8 anos, gostava de fazer esportes na escola. Jogava basquete, mas apenas com amigos. Não tinha altura, era rápida, mas não disputava os torneios, pois não tinha qualquer documento. Era como se eu não existisse. Fui escoteira, mas também não participava de viagens para outros locais pela mesma razão. Enquanto minhas amigas iam passear na Síria e Jordânia, eu ficava em casa.
Quais crenças limitantes você extirpou de sua vida para chegar até aqui?
Há uma frase de senso comum, mas que, no meu caso, é mais do que verdadeira: acreditar em mim mesma. Tenho uma amiga no Líbano, Nicole, que foi uma grande incentivadora e que sempre acreditou em mim. Minha mãe, por exemplo, sempre tinha um medo muito grande de eu me decepcionar e mesmo em casa, na minha infância e juventude, esse assunto da nacionalidade – ou da ausência dela – era um tabu.

Vivi com essa luta interna até os 17 anos e pensava: ‘será que não havia solução’? Eu era apátrida, com uma família simples e sem conexões. Isso reflete também uma situação de desigualdade, porque quando você tem dinheiro, naturalmente tem conexões e acesso a pessoas com poder e influência. No Líbano eu não tinha isso, mas a minha amiga Nicole sempre dizia que devíamos persistir e buscar uma solução. Foi daí que comecei a escrever cartas e e-mails, sem me importar com que as pessoas vão pensar.
Nesse meio tempo, tive de ter muita resiliência, porque também surgiram pessoas que diziam ter soluções milagrosas, mas pediam dinheiro para ‘ajudar’. Passamos muitas vezes por pessoas mal-intencionadas, que aplicavam golpes em nós. Quando surgiu a oportunidade do Brasil, minha mãe ficou muito apreensiva, com medo de ser mais um golpe. Mesmo a ONU no Líbano não apresentava uma solução para um caso individual. Ela dizia conhecer a minha história, mas alegava não ser capaz de atuar em uma situação caso a caso.
Diante de tantas dificuldades, quais crenças, comportamentos ou hábitos mais impactaram positivamente sua vida?
A primeira coisa que traz impacto é a questão da liberdade. A simples liberdade de ir e vir. No Líbano, por exemplo, vivia com frequências situações onde, ao transitar na rua, me deparava com um posto de checagem de segurança com policiais. Eu não tinha documentos a apresentar, o que poderia significar uma série de sanções. E mais: tinha de dar meia volta e escolher outro caminho. Imagine estar, no seu dia a dia, andando e precisar mudar de direção e ser privado desse ir e vir. Acabei descobrindo ser possível ter uma vida mais independente, o que fez crescer em mim uma enorme fé.
Quando sobrecarregada, sofrendo ou mesmo confusa, o que você faz? Como retoma seu foco?
Nessas situações é preciso buscar meu eixo. Ao longo da minha trajetória me deparei com enormes e sucessivas barreiras. O que faço é respirar fundo e escutar música. Isso me ajuda a retomar meu foco.
Com tantos desafios, focar no essencial é fator crítico de sucesso. O que é essencial para você?
Essencial para mim por um bom tempo era conseguir uma nacionalidade. Mas depois da morte de meu irmão, o que passou a ser essencial foi conseguir contribuir para mudar as leis dos países para garantir a nacionalidade para mais pessoas em situação de apatridia. E também assegurar que todas as crianças tenham nacionalidade e que seus pais as registrem, sabendo que um documento não é apenas uma formalidade burocrática: pode significar a vida de uma pessoa.
Em toda essa jornada, qual foi seu maior desafio e como lidou com ele?

O maior desafio sem dúvida foi conseguir uma nacionalidade. Para quem nasce brasileiro, é algo natural, mas a minha jornada mostra que para as pessoas que nascem na condição de apátrida, ser reconhecido, ter um lugar a quem pertencer pode ser um muro quase intransponível. Ao longo de minha trajetória em busca de um documento, tive que ter muita energia para continuar buscando soluções para esse problema que nem meus pais, advogados, diplomatas e ministros achavam possíveis. Esse foi o maior desafio a ser vencido: como conseguir existir se, legalmente, não havia como? Pode parecer absurdo, mas tentei por diversas formas e sempre me deparava com uma barreira. Posso dizer que enfrentei o desafio com muita esperança e fé. Caía, mas sempre levantava, com o apoio dos melhores amigos.
A busca por uma profissão se confunde com a busca pela nacionalidade. Como foi isso?

Quando cheguei à época da faculdade, queria estudar Medicina. Era meu sonho. E fui a uma universidade no Líbano, para a qual eu tinha notas altas e onde poderia cursar. Quando as apresentei, tinha a esperança de ser aceita. Mas o oficial de admissão pegou meus papéis e jogou-os na minha cara dizendo que se eu fosse libanesa, ou mesmo estrangeira, poderia estudar ali. Mas o que eu era? Não tinha documento.
Eu insisti e fiz uma lista de todas as universidades no Líbano e fui atrás de cada uma delas, implorando para estudar. Até que achei uma que me aceitou como um favor. A instituição não tinha Medicina, mas havia o curso de Gestão de Sistemas de Informação. Aceitei, estudei, me formei e depois fiz um MBA. Concluído tudo, pensei: ´e agora?’ Eu não podia trabalhar, estudar e sequer sonhar com o futuro. Então tive de fazer uma escolha: buscar um outro país.
Por que escolheu o Brasil?
Não fui eu que escolhi o Brasil, mas o Brasil me escolheu. Como vi que no Líbano não teria nenhuma esperança, comecei a procurar por outros países. Queria viver em outro lugar. Mandei carta para todas as Embaixadas no Líbano. Muitas falaram em ajudar, mas barravam no problema do passaporte. Eu era uma jovem formada, com MBA, falava quatro idiomas (árabe, francês, inglês e armênio), mas me perguntavam como iriam colocar um visto no meu passaporte se eu não tinha um?

A Embaixada americana não me chamou, mas ajudou ao explicar que a minha situação era de apatridia. Tive uma oportunidade de ir para o México, em 2013, mas precisava comprovar que teria emprego. Eu consegui, mas surgiram problemas que adiaram a possibilidade de viajar para lá. Nesse meio tempo, minha irmã Souad pediu o e-mail das Embaixadas e começou a fazer o mesmo. Ela teve melhor sorte e, em fevereiro de 2014, recebeu a ligação de um diplomata brasileiro e em duas semanas ela tinha em mãos um passaporte e um visto. Parecia inacreditável! É importante ressaltar que, nesse período, a Síria já enfrentava uma situação de guerra civil e o Brasil tinha acabado de abrir as portas para aceitar refugiados sírios, em um importante gesto humanitário.

Mas Souad ainda enfrentaria um problema, um entrave burocrático: foi parada pela polícia libanesa. Como ela teria um passaporte com um visto para o Brasil, porém, sem registro de sua entrada no Líbano? Assim, em setembro de 2014, eu e meus irmãos chegamos no Brasil.
O Brasil foi o único país que nos acolheu. Não foi um processo simples, muito menos indolor. Deixamos nossos pais e amigos, abandonamos toda a vida no Líbano e viemos como quem dá um passo no vazio. Não falávamos uma única palavra em português e não sabíamos nada sobre os brasileiros. Abri o Facebook, digitei ‘Brasil’ e vi que uma amiga tinha feito check-in no Rio de Janeiro em 2013. Ela me passou o contato de uma família de Belo Horizonte, que nos acolheu muito bem.
Como foi a adaptação em um país tão diferente como o Brasil?
No Brasil, meu primeiro documento foi o CPF brasileiro e o protocolo junto a polícia federal, o reconhecimento fundamental que garantiu que uma série de benefícios pudessem vir a ser conquistados. Assim, na sequência, consegui tirar o RNE, carteira de trabalho e CNH. Eu devo muitas coisas ao país, por isso defendo e visto as suas cores lá fora. É um país inseguro sim, mas que abriu as portas para que eu existisse.
No começo, mesmo tendo um MBA em gestão de sistemas de informação, trabalhei com distribuição de folhetos na rua, e posteriormente em uma fazenda no interior de São Paulo onde atuei em comércio exterior, em um longo processo e que me levou hoje a definir minha missão de vida: aumentar a conscientização sobre os dramas vividos pelos apátridas e refugiados em todo o mundo. E mesmo acolhida pelo Brasil, um entrave fundamental se manifestou: como me tornar uma cidadã brasileira se sou apátrida e a legislação local não contemplava a existência dessa condição?
Poderia nos contar sobre uma falha ou aparente falha, que depois descobriu ter sido fundamental para você atingir seus objetivos por aqui?
Quando chegamos ao país não havia uma lei, um tratamento específico para a apatridia. Foi algo que conseguimos mudar influenciando os legisladores com o apoio do ACNUR e também de outros grupos de discussão. Então, lembro que buscamos uma figura jurídica que mais se aproximava de nossa situação, minha e de meus irmãos, naquele momento, que foi a de refugiados. Havia realmente a questão dos refugiados oriundos da Guerra Civil na Síria. Nós não estávamos nas mesmas condições do que eles, mas foi a partir desse enquadramento que iniciamos um processo que nos ajudou a obter cidadania brasileira. Essa falha, ou melhor, essa limitação, foi fundamental.
E esse tem sido o cerne da minha atuação: como você vai resolver um problema se não o identifica claramente? É preciso reconhecer, identificar e ver as características daquele problema.
As pessoas têm muitas dificuldades de entender os problemas e o sofrimento dos apátridas porque muitas vezes elas próprias sequer sabem do que se trata e da dimensão do problema no mundo.
Temos muitos apátridas no mundo? Quantas são e onde estão?
Não existem números exatos, porque essa é uma população invisível. Segundo o ACNUR há uma estimativa de que o mundo tenha algo em torno de 10 milhões de pessoas vivendo nessa situação de apatridia. Outros levantamentos indicam que mais de 75% das pessoas nessa situação pertencem a minorias.

Quando chegamos ao Brasil, não havia leis que definiam o tratamento de um apátrida. Ao longo do processo de me aculturar, fui apresentada à Isabela, prima de um amigo dessa família e que tinha alguma experiência com trabalho voluntário com refugiados. Foi ela que me apresentou um caminho: buscar junto às autoridades brasileiras o tratamento de refugiada, para conseguir uma vida nova. Deu certo. Em maio de 2016 fomos reconhecidos como refugiados e tivemos um primeiro documento legal que nos permitia viver por cinco anos no país.
Essa felicidade, no entanto, durou um mês, porque em 30 de junho meu irmão Edward foi assassinado durante uma tentativa de assalto em Belo Horizonte. Três menores de idade anunciaram um assalto para levar o carro, que foi imediatamente entregue, mas também o relógio e carteira. Mas ele não entendia o português e não conseguiu entregar os pertences como exigido. Acabou morto sem tempo de alcançar o sonho de tornar-se cidadão brasileiro.
Guarda mágoa do Brasil por conta dessa tragédia com seu irmão?

Sempre me perguntam sobre isso. Não guardo mágoa não. Carrego uma imensa tristeza e saudade de meu irmão, sem dúvida, mas me consolo por saber que ele teve uma certidão de óbito. Ele pôde viver um mês com um documento que dizia quem ele era. Se estivesse no Líbano e na Síria ele não teria esse direito básico. Acredito que a morte dele poderia ter ocorrido em qualquer lugar do mundo. Meu sentimento pelo Brasil é o de gratidão, pois proporcionou a ele viver um ano e meio como ser humano. Sei que onde ele está hoje, sente muito orgulho de nós. Ele está muito feliz.
Depois desse episódio comecei a falar mais sobre os problemas da apatridia e foi a partir daí que me aproximei mais intensamente do ACNUR no Brasil e começamos um trabalho de mudança das leis, para acomodar pessoas nessa situação. Apátridas não têm direito a voto, a assistência médica, e, sem documentos, são marginalizados, muitas vezes sendo explorados ou obrigados a aceitar trabalhos com baixa remuneração, sem qualquer tipo de garantia.
Eu acredito em Deus. Prometi ao meu irmão que vou lutar por ele e por 10 milhões de pessoas do mundo que vivem sob as mesmas condições que eu passei durante boa parte da minha vida. São pessoas em carne e osso, que existem e têm vida, mas não direitos.
Você conseguiu sua nacionalidade e agora?
Desde que consegui a minha nacionalidade em 4 de outubro de 2018, só viajei, fazendo uma palestra atrás da outra. Tive uma breve folga no princípio de janeiro. Quero ressaltar que esse é um trabalho absolutamente voluntário. O ACNUR paga minhas despesas de hospedagem e transporte, mas não tenho um salário. Tenho feito trabalhos esporádicos, mas a luta pela apatridia não deixa muito espaço para pensar em carreira ou outros projetos pessoais. É bem verdade que às vezes, quando olho para esse passaporte e para essa identidade, me dá um conflito interno. Foi por esse papel que lutei tanto? Mas ao mesmo tempo me lembro de tudo aquilo que me foi negado por viver nessa situação de não ter documentos, não ter uma existência formal e penso que existam ainda milhões de pessoas nessa condição e é daí que tiro energia para seguir em frente com esse trabalho.

Recebo o incentivo de pessoas que me contatam por redes sociais e que me procuram por serem também apátridas. Uma coisa fundamental foi uma entrevista que dei à rede britânica BBC, que teve repercussão internacional e fez surgir convites para falar para outros meios, o que é ótimo porque ajuda a dar mais visibilidade à causa. Agora, um dos objetivos secundários, que surgiu, foi de tentar mostrar a outros países a legislação brasileira para tratamento dos apátridas, de forma que ela sirva de exemplo, de um modelo a ser seguido mundialmente.

Sobre o futuro, o que te move? Qual a sua jornada doravante e seu epitáfio?
Cada vez que eu compartilho minha história dentro de um Uber, no supermercado, no Parlamento, onde e com quem quer que eu esteja, me empenho em ter mais uma pessoa nesse mundo que saiba o que são e o que está acontecendo com os apátridas, conscientizando a população sobre o tema. É preciso tornar conhecida a vida dessas pessoas que estão assim não por uma escolha e que vivem como se não existissem, como se fossem uma sombra.
Você não decide onde nasce, nem seus pais, mas pode escolher nunca desistir diante das dificuldades e desafios e andar para frente tentando resolvê-los, acreditando que nessa vida tudo é possível. Tudo!

A minha missão da vida hoje é ajudar os apátridas de mundo, conseguir compartilhar e aumentar a conscientização sobre o drama dessas pessoas, por meio da minha história. Quero que consigamos chegar um dia a zerar o número de apátridas no mundo e que as pessoas entendam qual é a importância de um documento.
E para viabilizar economicamente minha vida e propósito, tenho aceito convites para fazer palestras corporativas por todo Brasil, onde levo minha mensagem de superação, resiliência, perseverança e foco.
Depois de tantas lutas e desafios, como você define sucesso?
Sucesso para mim é conseguir alcançar uma coisa que a deixa feliz e completa. Hoje posso dizer que vivo o momento presente. Não fico pensando em acumular fundos, seguir o modelo de uma vida tradicional.

Não é algo novo, pois sempre pensei assim: se ganho hoje R$ 500, quero aproveitá-los da melhor forma. Gosto de viajar, viver e conhecer lugares.
Sempre gostei de viajar, mas foi um desejo, uma vontade da qual fui privada por uma vida inteira como apátrida. E isso se intensificou ainda mais depois da morte do meu irmão. A vida é frágil. Precisamos buscar aproveitá-la ao máximo.
Há algum livro que lhe deu segurança e conforto em sua luta até o presente?
“O Pequeno Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry. Já o li muitas vezes e a cada leitura que faço encontro coisas novas. É uma ficção, mas que fala para algo fundamental em minha história pessoal: a necessidade de construir a sua própria realidade, de acreditar em você mesmo quando ninguém mais o faz. Por outro lado, mesmo livro é a minha fonte inspiradora, porque a vida é muito curta, frágil.
Por fim, convido-a para deixar sua mensagem à humanidade sobre o que podemos fazer para construirmos um mundo melhor.
Todo mundo tem o direito de pertencer a uma pátria, de ter uma identidade, como consta no artigo 15 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ele estabelece que todos têm direito a uma nacionalidade e que ninguém poderia ser arbitrariamente privado desse direito, mas é exatamente o que acontece às pessoas em situação de apatridia, que são sujeitas a penalidades, exploradas e privadas de direitos básicos. As leis foram escritas por seres humanos, e, nesse caso, houve falhas. Precisamos pensar em apatridia como uma questão que faz com que seres humanos vivam em uma sombra, sem qualquer dignidade e direitos. Precisamos que mais pessoas saibam sobre a apatridia e tenham consciência sobre a dimensão e impacto do problema, dar mais consciência compartilhando histórias, ajudando a criar pressão sobre legisladores e líderes que têm poder de influência para mudar o destino das pessoas, sempre acreditando na humanidade e no ser humano. #Ibelong

Maha, se alguns de nossos leitores desejarem contata-la, contratar uma palestra ou mesmo conhecer um pouco mais sobre você, como devem proceder?
Obrigada pela oportunidade Adriano. Meu e-mail é: mahajmamo@gmail.com


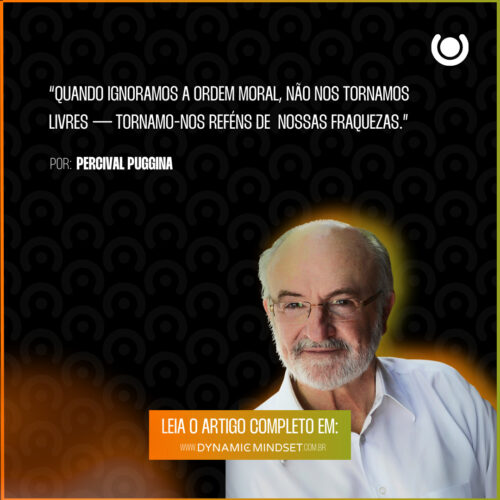

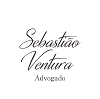
Excelente matéria! Parabéns ao autor. O texto me fez pensar sobre o mal feito a tantos brasileiros ensinados a ver com maus olhos a própria nacionalidade.
Caro Percival, Muito Obrigado por sua mensagem. Sua reflexão é perfeita!
Adriano, muito obrigado por esta entrevista que do fundo do meu coração considero um presente de Deus. A história de Maha Mamo é digna de um documentário e filme, pois, retrata um mundo ainda cheio de privações e crueldades, para os filhos nascidos da perfeição ou seja do amor entre dois seres que escolheram seguir seus corações.
Dói na alma somente de imaginar que no mundo ainda existam mais de 10 milhões de apátridas, e que clamam por algo tão básico, o direito de ter uma identidade, de serem filhos de uma nação, ou melhor serem reconhecidos como seres humanos. O que me causa mais tristeza é imaginar que até os nossos bichos de estimação tem identidade.
Há muito não lia algo que me fez sentir impotente, privado de fazer algo, porém, ao mesmo tempo me conforta saber que a Maha faz parte de uma pequena fração que conseguiu libertar-se de um cárcere que a colocaram deste o nascimento, e que agora lidera por meio do seu propósito o fim desta prisão sem grades para milhões de apátridas que neste momento caminham errantes por muitas partes deste mundo.
Tenho fé e esperança de que um maior contingente de pessoas no mundo tomem contato com histórias como a da Maha e que entendo o é a apatridia, para que então possam ajudar mais e mais pessoas ao redor do mundo, pois, não tenho dúvidas de que exatamente neste momento alguém está clamando por somente ter uma identidade.
Caro Edi, Muito Obrigado por fazer esta reflexão e nos trazer sua visão. Este é o propósito do Dynamic Mindset.
Para mim, que me classifico como patriota, parecia inimaginável não ter uma pátria para amar. Conheço a situação dos rohyndias, mas eles são uma etnia e se identificam com ela. Idem os curdos, que não tem país mas são um povo. Os catalães são privilegiados. Mas e quando não se está enquadrado em nenhuma coletividade? Existem pessoas mais isoladas mesmo entre os apátridas, que não tem um “rótulo” que as identifique em uma coletividade. Parece que era o caso de Maha (que cresceu como árabe) e de um caso que li sobre um homem que nasceu na Alemanha durante a guerra, filho de poloneses prisioneiros que não tinham documentos. Declaro meus parabéns a essas pessoas que, como Maha, se posicionam e assumem uma identidade social e patriótica. Deus os abençoe muitíssimo 🙏🏼