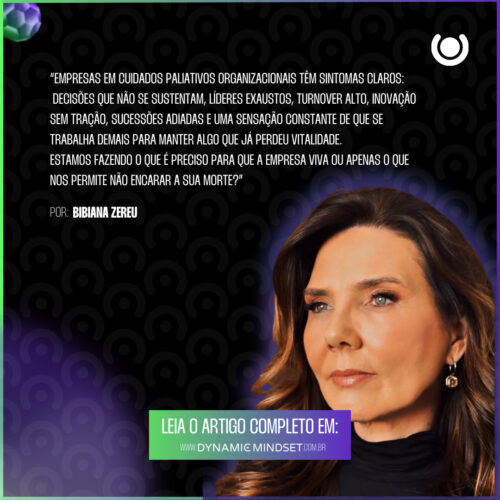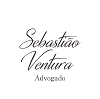Quando a autoridade simbólica pesa mais que qualquer protocolo
A empresa tem CNPJ. Tem conselho. Tem protocolo. Os rituais estão organizados. As reuniões, agendadas. Os contratos, assinados. Mas quem, de fato, decide continua sendo o mesmo. Agora em silêncio.
Há algo de profundamente teatral em muitas reuniões de governança nas empresas familiares. Todos os personagens estão presentes. O CEO contratado que tenta manter a neutralidade. O genro que serve para tudo, menos para decidir. A filha que cuida do clima, mas não é ouvida. O irmão visionário que voa alto demais. E o fundador que finge ter passado o bastão, mas ainda sustenta, com o olhar, o centro da sala.
O roteiro segue seu curso. A pauta é cumprida. As decisões são formalizadas. Tudo parece caminhar. Mas há um ruído que não está no papel. Um silêncio que pesa mais do que a ata. Uma ausência que organiza tudo ao redor.
É isso que chamo de governança encenada. Quando a estrutura foi criada, os papéis estão desenhados, mas a alma do sistema ainda obedece à lógica de antes. A lógica dos vínculos afetivos não nomeados, dos pactos silenciosos, da obediência herdada.
Essa cena se repete com frequência desconcertante. Acontece em reuniões às quais estive como facilitadora, em conselhos onde fui convidada a observar, em processos de sucessão onde o verdadeiro impasse não estava no plano de cargos, mas na história não contada. Percebi, ao longo dos anos, que o maior bloqueio não era técnico. Era relacional. Era simbólico. Era invisível.
E é exatamente esse invisível que, quando ignorado, mina o que parecia sólido.
Sucessões bem desenhadas implodem por dentro. Conselhos se tornam cenário de repetição. A cultura se fragiliza, mesmo com diagnósticos e manuais. O que era continuidade se transforma, silenciosamente, em descontinuidade simbólica.
Negar essas forças não as neutraliza. Apenas as desloca para o subsolo das decisões, onde agem com mais força. A filha mais preparada é deslocada para um papel de bastidor. O sucessor assume, mas sem legitimidade interna. O CEO contratado desiste antes de concluir o ciclo. E ninguém fala disso. Apenas se adapta à nova camada de silêncio.
O mesmo acontece em empresas de sócios. Um deles assume a linha de frente, por convicção, por imposição ou por exaustão dos demais, e se torna o porta-voz da cultura, das decisões, do futuro. Os outros silenciam. Alguns por lealdade. Outros por descrença.
E o grupo passa a funcionar como se estivesse coeso, quando, na verdade, opera sobre pactos de não dito. Um equilíbrio frágil, sustentado mais pela evitação do conflito do que pela clareza dos acordos.
A empresa continua. Mas a semente que se acreditava estar plantando é, na verdade, um retorno ao enredo antigo.
Porque toda sucessão, se não atravessar os pactos invisíveis, corre o risco de ser apenas uma transferência formal, sem mudança real. E toda governança que ignora os vínculos afetivos, os lugares simbólicos herdados, os roteiros de pertencimento, acaba funcionando como maquiagem sobre uma história mal resolvida.
Eric Berne chamou de scripts esses roteiros emocionais herdados, repetidos por lealdade inconsciente. São padrões internalizados que moldam decisões, escolhas, bloqueios. Ninguém os escreve conscientemente, mas todos os seguem, até que alguém decida reescrevê-los. E isso exige não apenas clareza técnica, mas coragem emocional.
John Davis observou que o momento mais sensível da empresa familiar não é a sucessão em si, mas a transição simbólica do poder. O ponto em que o fundador precisa, de fato, deixar de decidir. Em que o novo precisa ser mais do que nomeado: precisa ser assumido.
Essas transições não são sobre cargos. São sobre modos de decidir. São sobre a marca invisível que cada geração ou cada sócio deixa.
E é por isso que a pergunta mais estratégica não é “quem vai assumir?”, mas “o que estamos perpetuando sem perceber?”
Se o cuidado silencioso se retirasse amanhã, o que cairia primeiro?
Se o medo de confronto deixasse de organizar as relações, o que viria à tona?
Se os pactos herdados fossem finalmente nomeados, que possibilidades surgiriam?
A continuidade não depende da permanência da estrutura. Depende da capacidade de interromper o ciclo do não dito.
Porque toda decisão, inclusive a de não mexer, também deixa uma marca.
Se você chegou até aqui, talvez o próximo passo não seja implantar uma nova estrutura. Mas abrir uma conversa que ainda não aconteceu. Sentar-se com quem sustenta os vínculos, ouvir quem nunca foi legitimado, perguntar o que ainda pesa, mesmo quando ninguém nomeia.
Antes de redesenhar o futuro da empresa, talvez seja preciso perguntar o que ainda está decidindo por baixo da mesa. Quem tem o poder de veto simbólico. Quem foi silenciado por tradição. E quem segue obedecendo, mesmo depois de assumir o comando.
Governança, quando amadurece, se torna linguagem para aquilo que nunca teve nome.
E sucessão, quando real, começa quando alguém tem coragem de perguntar:
De que precisamos nos despedir, para que algo novo possa, enfim, começar?
O que se ganha com isso?
Ganha-se legitimidade verdadeira nas decisões. Ganha-se alinhamento sem silêncio forçado. Ganha-se espaço para o novo, não só em termos de pessoas, mas de ideias, direções, escolhas.
Ganha-se tempo. Porque o que não é nomeado hoje volta amanhã em forma de ruído, boicote, afastamento ou conflito.
Ganha-se confiança entre sócios, herdeiros, equipes e conselhos.
E, principalmente, ganha-se a chance de deixar um legado que seja mais do que um modelo de negócio: um modelo de maturidade, de escuta, de coragem para decidir, inclusive aquilo que ninguém teve coragem de dizer antes.